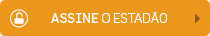Há 30 anos, Blade Runner traduzia o pós-modernismo em cinema
Luiz Rangel
Muito antes de Prometheus, Ridley Scott misturava ficção científica e existencialismo
Hoje os aficcionados por ficção científica voltam suas atenções ao aguardado Prometheus, uma obra que não apenas marca o retorno ao gênero de seu consagrado diretor, como resgata referências dos dois grandes clássicos que o antecederam. Trazendo angústias existenciais - que já haviam sido exploradas pelos andróides de Blade Runner - ambientadas dentro do universo imaginário de Alien. A nova empreitada de Ridley Scott atualiza a reflexão sobre a razão da vida no momento em que seu fim se aproxima. Se hoje existe um público ávido por esses temas, vale lembrar que nem sempre foi fácil convencer os estúdios de que tais assuntos renderiam boas tramas no cinema. Um caminho precisou ser aberto e alguém precisou aceitar o desafio para estabelecer precedentes que norteariam os rumos do gênero nas três décadas subsequentes.
Há 30 anos a Warner Bros queria apenas um filme que soubesse misturar robôs inteligentes com aventuras espaciais para aproveitar o bom momento vivido pelo cinema de ficção científica. O grande orçamento despendido na execução de Blade Runner, bem como a escolha minuciosa do diretor e do elenco, demonstram que o empreendimento era uma grande aposta de Hollywood. A produção deveria seguir o sucesso de Guerra nas Estrelas (1977), de George Lucas. E para dar conta do recado nenhum nome soava tão pertinente quanto Harisson Ford e Ridley Scott. A essa altura, Ford já somava em seu currículo, além do anti-herói desajustado Hans Solo, o também recente sucesso Indiana Jones e os caçadores da arca perdida (1981). Ridley Scott vinha de sua primeira e bem-sucedida experiência com o universo sci-fi em Alien - O oitavo passageiro (1979), pelo qual conquistara um Oscar por efeitos visuais e uma indicação para a equipe de direção de arte, provando sua competência em lidar com o gênero e credenciando-se a assumir a direção desta nova empreitada. O objetivo, garantir o retorno dos US$30 milhões investidos, não aconteceu de imediato. Simultaneamente, as salas ao lado exibiam uma produção de pouco mais de U$10 milhões , era o E.T. - O Extraterrestre de Steven Spielberg, recordista de público daquela temporada e umas das maiores bilheterias de todos os tempos.
O estigma de ícone da pós-modernidade só veio posteriormente, mas ajuda a explicar como os fins mercadológicos do filme ficaram comprometidos, embora tenha garantido sua notabilidade histórica e artística. A complexidade dos chamados replicantes, androides que metaforizam a própria condição humana, dual e finita, permaneceriam incompreendidos pelo grande público por décadas, sendo redescobertos aos poucos, talvez pela insistência daqueles que compreenderam desde o início que aquele era um filme, de fato, a frente de seu tempo, como o próprio tempo mostrou.
Também pesou contra o tom pessimista do enredo, num momento em que o mercado cinematográfico beneficiava-se de ufanismos que exaltavam o estilo de vida americano. Uma Los Angeles distópica, desiludida, devastada, submersa em lixo, dominada por potências latinas e orientais e sem o alívio de um final feliz era tudo o que o espectador não queria para preencher as duas horas de entretenimento que o ingresso deveria garantir.
O Estado de S.Paulo, 4/1/1983
O que para a época era um investimento considerado alto, só retornaria ao longo dos anos seguintes, com os lucros do merchandising e o relançamento de novas versões reeditadas para satisfazer os fãs, a crítica e o diretor. Para o lançamento de 1982, Scott fora intimado a simplificar o roteiro, tornando-o mais “auto-explicativo” a um público que se mostrava despreparado para absorver aquela proposta estética e narratológica, que priorizava a melancolia à ação e frustrava quem buscava uma fórmula hollywoodiana tradicional. Isso fez com que algumas cenas fossem cortadas ou inseridas, além da inclusão de uma catastrófica narração em voice-over do personagem principal, para conduzir o público ao longo da trama. Já em 1992, com maior liberdade para moldar o filme à sua maneira, o diretor pôde produzir uma nova versão, Blade Runner - Director´s Cut, rendendo lucros e projeção significativamente maiores do que na primeira estréia. A essa altura, a intenção tecno-noir já não era mais tão vanguardista e o filme podia ser entendido com mais facilidade.
Mesmo antes do aguardado relançamento, em 10 de novembro de 1990, o Caderno 2 rendia-se a genialidade de Scott, classificando Blade Runner como “a cara do cinema dos anos 80”, e este foi o tom predominante da crítica. Mesmo assim, ainda não satisfeito, Scott reeditou uma terceira versão, em 2007, Blade Runner – Final Cut, que promete ser definitiva.
Não cabe comparar, mas há quem prefira o livro ao filme. Antes de chegar aos cinemas pelas mãos de Scott, Do androids dream of eletric sheep? (Sonham os androides com carneiros elétricos? na tradução para a edição portuguesa), publicado em 1968 já compunha o expressivo currículo de Philip K. Dick. Vale lembrar que o roteiro para cinema eliminou alguns elementos que, no texto de Dick, se mostravam relevantes. É o caso, por exemplo, do mercerismo, uma tecno-religião empática conduzida por um guru cibernético chamado Wilbur Mercer; ou a ênfase no interesse dos personagens por animais de estimação não-sintéticos; a ausência da esposa do caçador, citada timidamente na versão de 1982 como uma ex-esposa, entre outros personagens que também acabaram sendo excluídos, ou mantidos com outros nomes.
Blade Runner é uma espécie de precursor cinematográfico do gênero cyberpunk, uma vertente da ficção científica, cuja origem é atribuída ao escritor Willian Gibson, a partir de seu livro Neuromancer, de 1984. Sugerindo toda uma nova gama de temas, o cyberpunk promoveu uma ruptura com a ficção científica tradicional, deixando em segundo plano os temas convencionais, como viagens espaciais, máquinas inteligentes e o contato com seres de outros planetas, em troca de novas experiências psico-tecnológicas, como a duplicação de indivíduos em versões virtuais de si mesmos, dimensões paralelas, realidades alternativas, o ciberespaço, anarquia, submundos digitais e ativismo hacker. O pós-modernismo, diante desta implosão de regras e tradições engessadas, parece ter encontrado nesta nova ficção a sua forma de expressão por excelência.
Comentários
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.